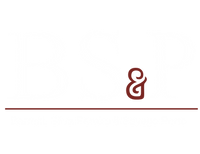No mundo contemporâneo, marcado pela ubiquidade das redes sociais, o conflito entre a liberdade de expressão e o direito à dignidade e à honra assume contornos cada vez mais complexos. A Constituição Federal de 1988 consagra a liberdade de expressão como pilar democrático (art. 5º, IV e IX). Contudo, não por coincidência, logo em seguida a carta magna impõe limites a esse direito para proteger a honra e a imagem (art. 5º, X), assegurando resposta proporcional ao agravo e indenização pelos danos causados (art. 5º, V).
Esse equilíbrio constitucional, observado na sequência dos artigos , em que primeiramente se reconhece a liberdade e, em seguida, se estabelecem os seus limites, é essencial à manutenção do Estado Democrático de Direito.
À época da promulgação da Constituição Federal de 1988, não se podia antever o impacto que as redes sociais teriam na vida social, política e institucional, ampliando a manifestação do pensamento em proporções até então inimagináveis e com potencial de causar danos imediatos e irreversíveis. Ainda assim, a leitura objetiva do texto constitucional revela que a Carta já contempla em seu conteúdo os necessários freios e contrapesos para coibir abusos: a liberdade de expressão é garantida, mas não pode ser exercida em detrimento de outros direitos e garantias fundamentais, especialmente a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.
O presente artigo tem por objetivo demonstrar que, quando alegações online ultrapassam a crítica legítima e descambam para o abuso, configuram violação de direitos fundamentais, exigindo resposta firme e célere do Poder Judiciário.
Como advogado com experiência em demandas envolvendo instituições educacionais, constato que acusações lançadas em plataformas digitais — sejam alusões a supostas negligências, imputações levianas as instituições de ensino, a professores no exercício da cátedra ou comentários depreciativos acerca das relações entre alunos — revelam, de forma contundente, a urgência de uma resposta jurisdicional firme e equilibrada.
Não se trata de mera crítica, mas de verdadeiras sentenças sociais, capazes de destruir reputações em poucas horas e comprometer anos de dedicação à educação. É nesse ponto que a liberdade de expressão, quando mal utilizada, deixa de cumprir seu papel democrático e se transmuta em instrumento de linchamento virtual, cujo impacto atinge não apenas a honra dos profissionais e a credibilidade da instituição, mas toda a comunidade escolar que dela depende.
O direito, enquanto ciência social, deve considerar o sofrimento humano causado àqueles que são julgados e condenados pelo chamado “tribunal de exceção da internet”, privados do contraditório e da ampla defesa — princípios basilares que remontam ao Direito Romano, sintetizados no brocardo audiatur et altera pars (“ouça-se a outra parte”). A exclusão desses princípios no julgamento midiático ou digital conduz a violações graves e irreparáveis.
O abuso do direito de expressão nas redes sociais manifesta-se no fenômeno do “cancelamento virtual”, caracterizado por boicotes coletivos contra indivíduos ou instituições, baseados em alegações unilaterais, sensacionalistas ou mesmo falsas. Tal prática, longe de promover diálogo democrático, revela-se instrumento de destruição moral e social, convertendo a internet, concebida originalmente como espaço de liberdade e informação, inspirado pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA (1791) e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, art. 19) num ambiente de hostilidade e injustiça.
Esse processo configura um autêntico linchamento virtual, cujas consequências ultrapassam o plano individual e alcançam dimensões institucionais de extrema gravidade. Do ponto de vista humano, os efeitos são visíveis: ansiedade, depressão, isolamento social e, não raras vezes, sintomas comparáveis ao estresse pós-traumático. Contudo, quando direcionado contra instituições, o impacto é ainda mais devastador: ocorre a erosão de sua credibilidade histórica, a ruptura da confiança social, a queda abrupta de matrículas ou contratos, além de prejuízos financeiros e reputacionais que, em muitos casos, conduzem à inviabilidade de sua função social. Trata-se, em termos práticos, da chamada “morte civil” da pessoa jurídica, consequência irreversível do uso abusivo da liberdade de expressão. Sob o prisma jurídico, o cancelamento virtual constitui inequívoco abuso de direito (art. 187 do Código Civil), ensejando responsabilidade civil por danos morais e patrimoniais, sobretudo quando vulnera a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a própria função social das instituições (art. 170, III, da CF e art. 52 do Código Civil).
O emblemático caso da Escola de Base, ocorrido em São Paulo na década de 1990, é talvez o exemplo mais trágico da devastação causada por acusações infundadas amplificadas pela mídia e pela opinião pública. Uma escola de educação infantil foi injustamente acusada de abuso sexual contra alunos, sem qualquer prova concreta. A notícia espalhou-se rapidamente, pais retiraram seus filhos da instituição, a reputação construída ao longo de anos foi irremediavelmente destruída e a escola jamais conseguiu se recuperar. Ao final, restou demonstrada a completa inocência dos acusados. Ainda assim, a marca indelével do linchamento social e midiático permaneceu, ceifando vidas, carreiras e a própria existência da instituição.
Esse episódio histórico evidencia, de forma dramática, como fake news podem funcionar como verdadeiras sentenças sociais, impostas por um “tribunal da mídia” — ou, nos dias atuais, por um “tribunal da internet” —, em que inexiste contraditório e ampla defesa. Tal como ocorre nas redes sociais de hoje, a informação falsa alcançou proporções incontroláveis, e a retratação posterior não foi capaz de reverter os efeitos devastadores. O que se perpetuou foi o estigma, a ruína institucional e a destruição de biografias.
A liberdade de expressão, portanto, não possui caráter absoluto. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, autoriza restrições legítimas ao exercício da expressão quando necessário à proteção da reputação alheia. O Código Civil brasileiro reforça esse entendimento, responsabilizando o causador do dano moral (art. 186) por manifestações que ultrapassem os limites do razoável.
No âmbito das instituições educacionais, ataques difamatórios alcançam uma gravidade incomparável. A escola não é apenas um espaço de ensino formal: ela é um núcleo vital de desenvolvimento humano e social, verdadeiro prolongamento da própria família, pois é nela que crianças e adolescentes passam grande parte de suas vidas, muitas vezes mais tempo do que junto a seus pais. Nesse ambiente se moldam valores, se constroem referências éticas, se aprendem regras de convivência e se consolidam as bases da cidadania.
Por isso, quando uma escola é acusada, da prática de condutas ilícitas, se levianas, o dano extrapola a esfera administrativa ou jurídica e atinge em cheio sua função social essencial. A confiança depositada pelas famílias se desfaz, os alunos sofrem o peso do estigma, os professores e colaboradores são expostos a níveis insuportáveis de estresse e desgaste emocional, e a própria comunidade vê fragilizado um de seus pilares mais importantes.
Não se trata, portanto, de um simples abalo de reputação: trata-se de uma agressão que repercute em todo o tecido social, comprometendo gerações e corroendo os alicerces de uma instituição que deveria ser espaço de proteção, acolhimento e crescimento.
Nesse contexto, permitir que acusações irresponsáveis prosperem em tribunais de exceção virtuais, onde inexiste contraditório e ampla defesa, é legitimar a destruição sumária de instituições que carregam sobre si a missão de formar cidadãos. É chancelar um julgamento público que condena sem provas, humilha sem limites e produz efeitos devastadores e, muitas vezes, irreversíveis. Por isso, não basta reconhecer a gravidade desse fenômeno: é dever do Direito intervir para estancar tais abusos, sob pena de se comprometer não apenas a honra de uma instituição, mas o próprio futuro da comunidade que dela depende.
A título exemplificativo, imagine-se a cena: uma publicação em redes sociais acusa uma escola de agir com “covardia” e “irresponsabilidade no cuidado de um aluno com deficiência. As palavras não se limitam à crítica , elas vão além. Atribuem à instituição práticas “monstruosas” e “segregacionistas”, chegando ao ponto de afirmar que a escola “trata o aluno como se fosse um cão” negado acesso a sanitários e colocando requintes de crueldade de que todos os demais estudantes da instituição estariam expostos a risco de morte face a negligência da instituição.
Essa narrativa, construída de forma sensacionalista e sem qualquer respaldo probatório, passa então a ser amplamente divulgada nas redes sociais e em espaços midiáticos, não por sua veracidade, mas em virtude dos “contatos” e vínculos do propagador junto a veículos de comunicação e formadores de opinião. Nesse ambiente de difusão acelerada, a mentira adquire ares de verdade, alcançando milhares de pessoas em poucos instantes e criando uma atmosfera de linchamento virtual, em que a escola é sumariamente julgada e condenada pela opinião pública, sem direito a contraditório ou ampla defesa.
E o efeito social é ainda mais devastador: terceiros, alheios às circunstâncias reais e sem acesso aos detalhes fáticos, passam a receber aquela versão como se fosse a própria verdade, internalizando a acusação como fato consumado. Forma-se, assim, uma convicção coletiva fundada não em provas, mas em narrativas distorcidas, que corroem a credibilidade institucional e destroem, em questão de horas, uma reputação construída ao longo de décadas.
Agora, pense no efeito dessa narrativa a comunidade escolar. Pais e mães, tomados pelo pânico, passam a duvidar da integridade de uma instituição que representa não apenas um espaço de ensino, mas um prolongamento da própria família. Professores e colaboradores, que dedicam suas vidas à formação de crianças e jovens, tornam-se alvos de desconfiança, desprezo e humilhação pública. Alunos, por sua vez, são estigmatizados pela comunidade, carregando nos ombros o peso de uma acusação que jamais lhes pertenceu. O que antes era espaço de acolhimento e desenvolvimento passa a ser visto como lugar de risco.
E se, mediante provas idôneas — como gravações das câmeras de segurança —, comprovar-se que tais acusações não passam de inverdades? O que se revela, então, é um ataque que extrapola de forma brutal os limites da crítica legítima, transformando a liberdade de expressão em instrumento de destruição. Não se trata apenas de difamação: trata-se da produção deliberada de danos irreparáveis, que destroem reputações, minam a confiança da comunidade e dilaceram uma instituição cujo papel social é insubstituível.
Porque, ao macular injustamente uma escola, não se destrói apenas um nome ou uma marca. Destrói-se um pilar de formação, um espaço de convivência, um segundo lar. O dano não é frio, calculável ou meramente patrimonial: é humano, profundo, existencial. É a ruptura de laços de confiança, a corrosão de valores coletivos e a morte simbólica de uma instituição que deveria ser fonte de esperança e não de descrédito.
No “tribunal da internet”, tais difamações adquirem contornos ainda mais nocivos. A instituição é submetida a julgamento sumário e implacável, sem contraditório e sem ampla defesa. O conteúdo ofensivo espalha-se de forma viral, criando uma percepção social negativa quase irreversível. Pense nos danos: famílias deixam de confiar na escola, alunos sofrem estigmatização, professores e funcionários se sentem desmoralizados e a credibilidade construída ao longo de décadas se desfaz em questão de horas. Pense no direito atingido: a honra objetiva da instituição, o seu bom nome e a sua imagem pública — bens jurídicos expressamente protegidos pela Constituição e pela legislação civil.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que a liberdade de expressão não pode ser invocada como escudo para práticas abusivas. Em julgados recentes, como o RE 1.037.396 (Rel. Min. Dias Toffoli, 2025), a Corte reconheceu que fake news em redes sociais justificam intervenção imediata para proteção da honra, afastando o risco de danos irreversíveis.
Do mesmo modo , o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.199.156/DF (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), igualmente assentou a legitimidade da remoção liminar de conteúdos difamatórios, reconhecendo a proporcionalidade da medida frente ao risco de perpetuação de danos.
Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem se posicionado de forma firme. No AI 5101847-76.2025.8.21.7000 (Nona Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 25/06/2025), o Tribunal reconheceu a competência da jurisdição brasileira para analisar conteúdos publicados no exterior, mas acessíveis no Brasil, e manteve decisão que determinou a abstenção de novas postagens ofensivas em redes sociais. A Corte destacou que a medida não configura censura prévia, mas sim legítima proteção judicial dos direitos da personalidade, diante de publicações que imputavam negligência e afetavam a reputação da parte autora.
Da mesma forma, no AC 5008129-25.2020.8.21.0008 (Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 22/04/2025), o TJRS enfrentou ação indenizatória por comentários vexatórios em rede social. A Corte entendeu configurado o ato ilícito, a ofensa à honra e o nexo causal, fixando indenização por danos morais. O acórdão ressaltou que, embora a liberdade de expressão seja fundamental à democracia, ela não é absoluta e encontra limite quando extrapola a crítica legítima para adentrar o terreno da difamação, da injúria e da humilhação pública.
Esses julgados estaduais reforçam a convergência interpretativa entre STF, STJ e TJRS: a liberdade de expressão não pode ser usada como salvo-conduto para agressões injustas à honra e à dignidade, sendo legítima a intervenção judicial para remover conteúdos abusivos, evitar o linchamento virtual e preservar a função social das instituições e a integridade dos indivíduos.
Conclusão
Diante do exposto, impõe-se reconhecer que a liberdade de expressão, embora seja um dos pilares do Estado Democrático de Direito, não ostenta caráter absoluto. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos IV, IX e X, consagrou não apenas a livre manifestação do pensamento, mas também estabeleceu os seus limites necessários para a proteção da honra, da imagem e da dignidade da pessoa humana, valores igualmente fundamentais à ordem constitucional.
O ordenamento jurídico brasileiro — reforçado por tratados internacionais incorporados, pelo Código Civil e pela jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJRS — demonstra inequívoca convergência: a liberdade de expressão não pode servir como escudo protetivo para práticas ilícitas, difamatórias ou sensacionalistas, sobretudo quando dirigidas contra instituições que exercem função social relevante, como as educacionais.
No ambiente digital, a propagação de fake news e de acusações infundadas potencializa o risco de danos de forma exponencial, criando verdadeiros “tribunais de exceção virtuais”, onde inexiste contraditório e ampla defesa. Nesse cenário, não apenas indivíduos, mas pessoas jurídicas inteiras são submetidas à “morte civil”, com a corrosão de sua credibilidade, a ruptura de vínculos de confiança e a inviabilização de sua missão institucional. O caso paradigmático da Escola de Base demonstra, de forma trágica, que tais danos são muitas vezes irreversíveis, mesmo quando a inocência é posteriormente reconhecida.
Portanto, cabe ao Poder Judiciário exercer papel ativo e efetivo, determinando, de forma célere e proporcional, a remoção de conteúdos difamatórios e a reparação dos danos morais e patrimoniais decorrentes. Não se trata de censura prévia, mas sim de legítima tutela jurisdicional em defesa dos direitos da personalidade e da função social das instituições.
Em síntese, o conflito entre liberdade de expressão e direitos da personalidade não deve ser resolvido pela prevalência irrestrita de um sobre o outro, mas pela aplicação do princípio da proporcionalidade, em que se assegure o exercício da crítica legítima, sem permitir que ela se converta em instrumento de destruição moral, social e institucional. Afinal, como reafirma a melhor doutrina e jurisprudência, a liberdade termina onde começa o abuso.
Conclusão
Diante desse cenário, conclui-se que a liberdade de expressão, embora essencial à democracia, não é absoluta e encontra limites no respeito à honra, à imagem e à dignidade da pessoa e das instituições. A difusão de fake news e conteúdos difamatórios em redes sociais não pode ser confundida com crítica legítima, configurando abuso de direito e ensejando responsabilidade civil.
A ponderação proporcional entre os direitos fundamentais exige que a Justiça atue de forma firme e célere para remover conteúdos abusivos, evitando a perpetuação de danos irreversíveis. Como orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 4º), a proteção da criança e do adolescente deve ter prioridade absoluta, o que reforça ainda mais a necessidade de tutela imediata contra ataques difamatórios a instituições educacionais.
A reflexão que se impõe à sociedade é clara: a liberdade termina onde começa o abuso. Cabe ao Direito assegurar que o espaço virtual não se converta em tribunal arbitrário de destruição moral, mas em ambiente de diálogo, informação e respeito mútuo, condizente com os valores de um verdadeiro Estado Democrático de Direito.